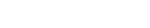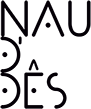Um pensador das ruas, das florestas, dos rincões do Brasil. O escritor, pedagogo e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Luiz Rufino mira seu olhar para as histórias, a sabedoria e a potência que vêm de grupos ameaçados de destruição pelo que ele considera um projeto de colonização inacabado.

Comunidades de terreiros, de quilombolas e de indígenas são exemplos de uma resistência que garante não apenas o presente de seus integrantes, mas o futuro da humanidade. “São grupos que inventam modos de viver, de driblar a precariedade e de construir relações mais sensíveis e ecológicas com o planeta”, observa. “Eles detêm um conhecimento sagrado e complexo que ultrapassa o simples domínio técnico e a visão utilitária do saber. É uma sabedoria profunda e voltada para o bem da coletividade”.
Essa filosofia forjada no cotidiano e nascida de memórias ancestrais, de acordo com Rufino, pode ser entendida também como espiritualidade. Ela seria um caminho para uma conexão respeitosa entre humanos e deles com a natureza. “A tensão e a ambivalência sempre existirão. Mas a espiritualidade pode ser um espaço de diálogo e encontro, mesmo que seja para discordar”, analisa. Na entrevista a seguir, o autor de Pedagogia das encruzilhadas discute esse e outros temas.
Parepense: Em um de seus livros, o Arruaças, há a ideia central de que a malandragem, a vadiagem e a vagabundagem são valores, saberes e práticas contracoloniais. Poderia explicar esse conceito?
Luiz Rufino: Entendo o colonialismo como um evento inacabado. Até hoje vivemos dentro dessa lógica. Uma colonização se caracteriza pela instauração de uma intervenção militar, política e religiosa que impõe e organiza os pilares de uma sociedade e de uma nação. No planeta como um todo esse projeto de dominação segue em curso, não meramente como uma presença material, mas como ampla presença de uma visão eurocêntrica. Para rasurar esse modelo dominante, foram inventadas várias formas de transgressão nas ruas, nas florestas, no Brasil profundo. A experiência das mulheres, dos povos indígenas, da população negra e das crianças são modos de luta e de invenção de um jeito sagaz e astuto de driblar a precariedade. Há uma política nacional feita de saberes e práticas lavrados no cotidiano das pessoas. O Carnaval é um exemplo. As escolas de samba, que são uma invenção centenária, não propõem somente um modelo de festa, mas outro modo de organização da vida.
PP: Você também costuma ressaltar a importância de ensinar a gramática do tambor e de termos outros mestres. Essas mudanças poderiam produzir que tipo de efeito na sociedade brasileira?
LR: Tenho trabalhado basicamente na formação de professores e professoras, e na pesquisa em educação. No contexto brasileiro, há inúmeras comunidades que vivem, se relacionam e aprendem de diferentes formas, indo além de uma educação perspectivada em uma lógica antropocêntrica. São modos de vida mais ecológicos, com um aprendizado que inclui a natureza, a comunidade e a ancestralidade. O processo educativo tem dimensões rítmicas, corpóreas e telúricas. Vemos isso na roça, onde há um domínio do conhecimento que não é meramente técnico, mas envolve um diálogo com o tempo, o clima e outros fatores. A tendência é não darmos credibilidade a esse tipo de saber, mas ele é muito importante e responsável em termos sociais, econômicos e ambientais. Há inúmeras comunidades que sabem ler inscrições presentes no mundo que nós não sabemos. Mas em vez de escutarmos e aprendermos, assumimos uma postura de arrogância, considerando o que não é científico como algo “místico” e, portanto, menor. Ter mestres diferentes e uma nova gramática tornaria a experiência humana mais diversa e potente.
PP: Nesse sentido, podemos dizer que o candomblé e a umbanda são caminhos de resistência e que trazem uma nova gramática, não?
LR: O repertório das religiosidades afro-brasileiras e afro-ameríndias são complexos de saber. A experiência da umbanda, inventada por aqui, propõe uma interlocução no conflito e na ambivalência que há entre diferentes culturas e identidades políticas. Essas sabedorias criaram grandes bolsões de conhecimentos que ultrapassam o conceito ocidental de religião. Elas são práticas de saber, práticas comunitárias e de conhecimentos ancestrais que fogem da lógica utilitária de produzir, consumir e descartar. Elas resguardam memórias e saberes profundos sobre uma espécie de bem-viver, de uma relação mais responsável, equilibrada e irmanada com o todo. Essa visão é muito própria dessas comunidades e é encontrada em diferentes grupos no Brasil.
PP: Você percebe um certo branqueamento da umbanda, visando possivelmente dar mais espaço para a classe média?
LR: Estou preparando um trabalho sobre umbanda, é um tema que me interessa bastante. Há um problema analítico que é tentar ler a umbanda como uma síntese no Brasil, uma prova da democracia racial ou da mestiçagem cultural que deu certo. Esse é um desejo branco. A umbanda está longe de ser uma síntese do Brasil, a não ser que ela seja lida como uma inscrição desse Brasil mítico com três raças à espera de apaziguação da violência racista colonial. Minha aposta teórica é na umbanda como um feitiço de brasilidade. A umbanda, pela sua reverência e relação com os caboclos, com o povo das matas e com tantos outros grupos, transita em relações ora de conflito, ora de confluência, ora de ambivalência, ora de diálogo. Essas múltiplas vozes não necessariamente estão em consenso, mas se conversam. Cresci com a umbanda muito próxima, com vizinhas que a trabalhavam de forma doméstica e uma fila se formava para ser atendida por elas. Não era apenas uma religião, mas um foco de saberes ancestrais a serviço da comunidade. O desejo brancocêntrico de pensar a umbanda como uma narrativa apaziguadora também acontece na capoeira, no samba e no futebol.
“A conversão, ao longo da história do Brasil, não é um problema meramente de fé, mas é um problema de dominação colonial”
PP: Como analisa a intolerância religiosa? Ela coincide com o preconceito racial e social ou há outros ângulos para pensarmos nessa questão?
LR: A colonização tem três principais frentes. Uma delas é a militar, que vemos até hoje nas favelas do Rio, por exemplo. Outra são as plantations, que acho mais apropriado do que o termo latifúndio. A escravidão no Brasil foi um dos principais agentes econômicos de alocação da Europa no centro. Hoje, a plantation se manifesta por meio da expansão do agronegócio, pelo desmatamento, a monocultura e o uso de agrotóxicos. O crime e a violência no corpo são uma dimensão da colonização. Então, a conversão, ao longo da história do Brasil, não é um problema meramente de fé, mas é um problema de dominação colonial. A primeira ação da coroa portuguesa foi instituir uma guerra justa, com autorização de assassinar aqueles que não reconhecessem seu poder e a fé cristã. A conversão, portanto, era uma questão de manutenção da vida. E ela perpassa uma aprendizagem da língua e de uma certa narrativa explicativa sobre o mundo. Como diz o mestre Antônio Bispo dos Santos, existe um caráter cosmofóbico na sociedade eurocristã monoteísta. É um medo e uma recusa do sagrado dirigidos, por exemplo, a povos indígenas e comunidades quilombolas. A intolerância religiosa faz parte desse problema, já que ela rejeita diferentes narrativas em nome de uma suposta verdade única. É uma ânsia de dominação que acaba por destruir memórias, afetos e intimidades cotidianas e ancestrais. O termo mais apropriado para ser referir a essa face é racismo.
PP: A sua obra destaca a importância da sabedoria ligada ao corpo, ao movimento, à ginga. Poderia detalhar essa visão?
LR: O corpo é o próprio saber, é a própria comunidade. Ele talvez seja a expressão maior do conhecimento humano, ele carrega e transmite histórias. Um pescador, um lavrador, uma criança trazem no corpo muita sabedoria. Eles resguardam no corpo um saber ancestral, uma memória coletiva. A corporeidade é uma fonte de inventividade e, por isso, a empreitada colonial tinha por objetivo a destruição dos corpos. O racismo e feminicídio são provas de que há um desejo de dominação e de apagamento dos corpos.
PP: Poderia comentar o papel político, ideológico e teológico que o neopentecostalismo desempenha no Brasil? Considera que a expansão dessa vertente religiosa acabou gerando um enfraquecimento das religiões de matriz africana?
LR: Acredito que as violências contra as religiões de matrizes africanas têm relação com a nossa própria experiência colonial, sua continuidade e atualização. Temos uma dificuldade profunda de pensar a espiritualidade fora da caixa do discurso teológico e político. A palavra espiritualidade tem sido muito reivindicada como um lugar de confluência pelo pensamento andino, caribenho, das populações indígenas e quilombolas brasileiras. A categoria espiritualidade fala de um lugar de interlocução e de sensibilidade com o mundo. A crise climática, a educação e a qualidade de vida podem ser pensadas pela ótica da espiritualidade, que é entendida como manifestação de um saber ancestral e comunitário. A espiritualidade é uma perspectiva filosófica. Isso foi aquebrantado pelo terror imposto pela catequese e pela violência da conversão religiosa. Mesmo sendo alvo permanente de violências por parte dos herdeiros das obras coloniais, eu percebo as comunidades de terreiro e as indígenas em um momento de muita potência, com uma luta política que é pedagógica para todo o Brasil. Exemplos disso são a reflexão do cacique Babau Tupinambá, no sul da Bahia, e dos yanomamis, reivindicando seu primado cosmológico e entre outros. O discurso da bancada evangélica, por sua vez, não é necessariamente o discurso da totalidade dos praticantes da fé evangélica, que em grande parte são também afetadas pelas violências do racismo/colonialismo e lidam com perrengues de todo tipo nos cotidianos. Nossa história é dotada de singularidades e muita complexidade, olhá-la e percebê-la por um viés maniqueísta é uma aposta da dominação colonial.
Parepense
A revista eletrônica ParePense desafia a compreensão do nosso tempo através de um olhar diversificado que abrange desde a Filosofia até as Artes. Com reflexões profundas, críticas e sensíveis à realidade, buscamos promover uma visão de mundo plural, ética e responsável. Nossa linguagem é simples, mas nossos assuntos são complexos. Nossa equipe trabalha com autores de diversas partes do mundo para fornecer um conteúdo relevante, interessante e impactante.