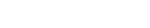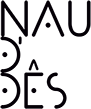Repare:
- as descobertas de que a Terra gira em torno do sol, somos “parentes” de macacos e possuímos uma dimensão inconsciente são conhecidas rachaduras simbólicas na imagem de perfeição do ser humano;
- a crise climática e o risco de aniquilação do planeta se apresentam como os mais recentes golpes na fantasia de superioridade dos homens em relação às demais espécies;
- o antropocentrismo, pensamento que coloca o homem no centro do Universo, contagiou diferentes campos do conhecimento, desvalorizando o papel da natureza na perpetuação humana;
- na filosofia, Nietzsche foi um dos que destacou a soberba do ser humano, seu limitado conhecimento sobre si mesmo e seu descolamento da Terra;
- há algumas décadas estudiosos vêm criticando duramente a propalada centralidade e autossuficiência humana, e seus efeitos deletérios para todas as espécies;
- essa nova corrente de pensamento enfatiza que o enfrentamento de uma catástrofe climática passa pela valorização da interdependência da espécie humana com outras espécies e a natureza.
Freud assinalou dois golpes narcísicos que abalaram nossa civilização nos últimos séculos, e colocou sua própria pesquisa sob o signo de tal linhagem. “No decorrer dos tempos, a humanidade teve de tolerar dois grandes insultos a seu ingênuo amor-próprio, por parte da ciência. O primeiro, quando descobriu que nossa Terra não é o centro do universo, e sim uma ínfima partícula de um sistema cósmico cuja grandeza mal se pode imaginar. Essa afronta se liga, para nós, ao nome de Copérnico, embora já a ciência alexandrina tivesse anunciado coisa semelhante. O segundo, quando a pesquisa biológica aniquilou a suposta prerrogativa humana na criação, remetendo a descendência dos homens ao reino animal e apontando o caráter indelével de sua natureza animalesca. Essa reavaliação ocorreu em nossos dias sob a influência de Darwin, Wallace e de seus predecessores, não sem enfrentar a mais veemente oposição dos contemporâneos. O terceiro e mais sensível insulto, no entanto, a mania de grandeza humana deve sofrer da pesquisa psicológica atual, que busca provar ao Eu que ele não é nem mesmo senhor de sua própria casa, mas tem de satisfazer-se com parcas notícias do que se passa inconscientemente na sua psique… tivemos de perturbar a paz deste mundo”[1].
Não podemos negar que as três feridas suscitaram deslocamentos expressivos quanto à centralidade do homem no universo, da espécie humana no seio da Natureza e do Eu no âmbito que lhe parecia o mais próprio – o de seu psiquismo.
Nada disso impediu que a humanidade europeia seguisse sua marcha rumo à dominação do mundo, iniciada no século XVI, e progressivamente estendesse seu domínio sobre o Ecúmeno, seja através da colonização, da escravidão, da plantation, do capitalismo, do desenvolvimento técnico-científico, da economia baseada em combustíveis fósseis, da devastação das florestas, da grande aceleração, etc. As consequências dessa sucessão histórica para o aquecimento global e a atual crise climática são inegáveis.
Em 2000, o químico holandês Paul Crutzen deu a esse período geofísico o nome de Antropoceno. Para usar as palavras do sociólogo Chakrabarty, trata-se da época em que o humano tornou-se uma força geológica com capacidade de interferir nas condições termodinâmicas de existência no planeta Terra. Que alguns prefiram Capitaloceno, ou Plantationceno, não altera a questão posta. A saber, que a centralidade do humano, assumida de maneira tão unilateral e brutal acabasse representando uma ameaça a sua própria sobrevivência.
Talvez estejamos, com esse conjunto, diante de uma quarta ferida narcísica, se levarmos em conta a “irrupção de Gaia”, conforme a expressão de Isabelle Stengers, que nos obriga a situar o humano no interior do sistema-Terra.
Antropocentrismo
O antropocentrismo pode ser definido como o pensamento que coloca o homem no centro do Universo. Eis um topos que remonta à mais remota antiguidade, desde Protágoras, para quem “o homem é a medida de todas as coisas”. Será que tal centralidade do humano não coincide com a própria prática filosófica? Não teve a filosofia, desde seu nascimento, por objeto o homem e sua conduta, conforme a Justiça ou a Verdade?
Apesar das aparências, nada mais equivocado. A dialética platônica não tinha por objetivo o homem, mas o Bem. O homem só comparecia como uma etapa para tal movimento ascensional. A Idade Média tinha por objeto Deus, e o homem era apenas uma etapa ou um meio de se alcançar tal transcendência. Mesmo nas filosofias do século XVII, ainda que o ponto de partida fosse o homem, o ponto de chegada era o Absoluto, Deus, o Infinito. Apenas no século XVIII se passa de um teocentrismo a um antropocentrismo[2].
O paradigma desta passagem está na Lógica, de Kant: O que posso saber? O que devo fazer? O que me é dado esperar? Que se resumem nesta: O que é o homem? Aí temos, pois, talvez pela primeira vez, a pergunta pelo homem em si mesmo, sem fazê-lo depender de outra coisa. É o reino da finitude humana, pensada em si e por si. Em outras palavras, é quando a filosofia vira antropologia filosófica.
Em entrevista dada a Alain Badiou, antes mesmo da publicação de As palavras e as coisas, Michel Foucault sustentava que o homem enquanto objeto filosófico só aparece efetivamente no século XIX. O entrevistador, perplexo, argumenta que muito antes disso o homem já figurava como objeto de análise, assim como sua natureza, seu entendimento, etc. Ao que Foucault responde que qualquer discurso sobre o homem nunca visou o próprio homem, mas o infinito em direção ao qual ele se elevava[3]. Apenas com Kant, pela primeira vez, a finitude aparece nela mesma. Foucault admitia que a reflexão sobre o homem era existente, mas secundária, constituindo uma etapa de uma reflexão que ia para além dela.
“Este lado negativo da pergunta ‘O que é o homem?’ convida-nos a refletir sobre a ambição de separar o humano e o não humano”
Homem/animal
Sabemos que para definir o que é o homem é preciso distingui-lo do que ele não é: animal, natureza, coisa, etc. Este lado negativo da pergunta “O que é o homem?” convida-nos a refletir sobre a ambição de separar o humano e o não humano. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss apontou o perigo desta atitude filosófica nos seguintes termos: “Não foi o mito da dignidade exclusiva da natureza humana que levou a própria natureza a sofrer uma primeira mutilação, da qual outras mutilações deveriam inevitavelmente seguir-se? Primeiro, o homem foi cortado da natureza e constituído como um reino soberano, apagando assim o seu carácter mais indiscutível, a saber, que ele é, antes de mais, um ser vivo. E ao permanecermos cegos a esta propriedade comum, demos livre curso a todos os abusos. Nunca melhor do que no final dos últimos quatro séculos da sua história o homem ocidental foi capaz de compreender que ao arrogar-se o direito de separar radicalmente a humanidade da animalidade, ao conceder a um tudo o que negava ao outro, ele estava a abrir um círculo amaldiçoado, e que a mesma fronteira, constantemente atraída para trás, serviria para manter outros homens afastados dos homens, e para reivindicar em benefício de minorias cada vez menores o privilégio de um humanismo corrupto imediatamente nascido por ter emprestado do amor-próprio o seu princípio e a sua noção.”[4] O teor profético dessas palavras só pode nos causar hoje um arrepio imenso.
Ainda na tradição ocidental, várias tentativas foram feitas para destrinchar a lógica dessa separação. Num livro intitulado O Aberto, Giorgio Agamben refaz a genealogia do humano a partir de sua diferenciação com o animal. Ele se refere à máquina antropológica, que remonta aos antigos e atravessa os modernos, que funciona necessariamente por uma exclusão do não-homem no homem, paralelamente a uma antropomorfização do animal. Este animal que o homem encontra em si, e que ele isola dentro de si, ao qualificá-lo de não-homem, numa decisão que é ao mesmo tempo metafísica e técnica, e que implica sempre e necessariamente uma zona de fronteira, de indistinção, é uma vida separada, diz Agamben, uma vida que não é nem humana nem propriamente animal, uma vida excluída dela mesma, uma vida nua. A história da filosofia poderia ser contada à luz desse esforço, de separar o homem do vivente. A posição final de Agamben a respeito parte de uma bela frase de Benjamin: “A dominação da natureza, dizem os imperialistas, é o sentido de toda técnica. Mas quem confiaria num diretor de colégio que visse na dominação das crianças pelos adultos o sentido da educação? A educação não é antes de tudo a regulamentação indispensável da relação entre as gerações e, por conseguinte, se se quer falar de dominação e de domínio, o domínio das relações entre as gerações, e não a dominação das crianças? E portanto a técnica, ela também, não é domínio da natureza, mas domínio da relação entre natureza e humanidade. Os homens enquanto espécie chegaram há milênios ao termo de sua evolução; mas a humanidade enquanto espécie está ainda no início da sua”. Donde Agamben retém o mais importante: o termo entre, o intervalo e o jogo entre os dois termos, natureza e humanidade, coisa que a máquina antropológica já não faz, visto que ela foi como que bloqueada, mas deixa em suspenso algo que estaria por vir e para o quê não temos ainda uma palavra adequada. “Não é mais humana, pois esqueceu todo elemento racional, todo projeto de dominar sua vida animal; mas tampouco pode ser dita animal, se a animalidade fosse precisamente definida por sua pobreza”… [5] Ora, Agamben lembra que em nossa cultura, o homem sempre foi o resultado de uma divisão, e ao mesmo tempo de uma articulação entre o animal e o humano… Tornar inoperante a máquina que governa nossa concepção de homem, diz ele, não significaria tanto buscar novas articulações, mais eficazes ou autênticas, senão mostrar o vazio central, o hiato que separa, no homem, o homem do animal, e arriscar-se nesse vazio, numa suspensão tanto do homem como do animal.
“…por muito tempo a filosofia teve dificuldade em ir além de seu autoenclausuramento”
Já podemos pressentir em que medida o movimento de Deleuze ressoa e destoa dessa posição, que vai, grosso modo, de Aristóteles a Heidegger. Para dizê-lo ainda nos termos de Agamben em O Aberto, se em nossa cultura o homem sempre foi resultado de uma divisão, de uma articulação do animal e do homem, do inumano e do humano, da vida nua e da vida qualificada, de zoé e bios, Deleuze faz dessa uma cena cômica – por mais que o contexto biopolítico contemporâneo transforme este riso num sinal de alerta. Em todo caso a presença dos animais em Deleuze, desde os devires-animal até a idéia de que o animal é aquele que sabe morrer, culminando com a relação necessária entre o pensamento e a animalidade, deixam entrever uma posição singular, no limite do pensável: uma ontoetologia que beira uma zoofilosofia, nas antípodas da tradição humanista.
Encerrada em sua torre de marfim, porém, autocentrada e autorreferida, por muito tempo a filosofia teve dificuldade em ir além de seu autoenclausuramento. Foi Nietzsche quem melhor o definiu: ”O que sabe propriamente o homem sobre si mesmo! Sim, seria ele sequer capaz de alguma vez perceber-se completamente, como se estivesse em uma vitrina iluminada? Não lhe cala a natureza quase tudo, mesmo sobre seu corpo, para mantê-lo à parte das circunvoluções dos intestinos, do fluxo rápido das correntes sanguíneas, das intrincadas vibrações das fibras, exilado e trancado e uma consciência orgulhosa, charlatã! Ela atirou fora a chave: e ai da fatal curiosidade que através de uma fresta foi capaz de sair uma vez do cubículo da consciência e olhar para baixo, e agora pressentiu que sobre o implacável, o ávido, o insaciável, o assassino, repousa o homem, na indiferença de seu não-saber, e como que pendente em sonhos sobre o dorso de um tigre.”[6]
O dorso do tigre
Coube a Foucault dar eco a essas palavras, quase cem anos mais tarde. Ao assinalar o lugar privilegiado dado aos humanos pela tradição filosófica, tanto pelo humanismo renascentista como pelo racionalismo clássico, o que eles não puderam, arremata ele, foi “pensar o homem”[7]. E em seguida, retoma a virada nietzschiana: “Compreende-se o abalo que o pensamento de Nietzsche produziu, e que repercute em nós ainda, quando anunciou, sob a forma de um acontecimento iminente, o da Promessa-Ameaça, que o homem em breve deixaria de existir…nossa concepção moderna do homem, a nossa solicitude por ele, o nosso humanismo dormiam serenamente sobre a sua retumbante inexistência. Nós que nos julgamos ligados a uma infinitude que só a nós pertence e que nos abre, mediante o conhecer, a verdade do mundo, não deveríamos lembrar-nos de que estamos presos ao dorso de um tigre?”[8] E insiste, ao longo de seu livro seminal, na tese de que o homem é uma invenção recente. “Antes do fim do século XVIII, o homem não existia. Nem tampouco a potência da vida, a fecundidade do trabalho ou a espessura histórica da linguagem. Ele é uma criatura recentíssima que a demiurgia do saber fabricou com as suas mãos há menos de duzentos anos: mas tão depressa envelheceu que se imaginou facilmente que esperara na sombra durante milênios o momento de iluminação, em que seria, enfim, conhecida. Mas não havia consciência epistemológica do homem como tal. A episteme clássica articula-se segundo linhas que não isolam de modo algum um domínio próprio e específico do homem.”[9] Não foi fácil, assim, assimilar que o homem é uma invenção, e ainda por cima recente, e que sua arqueologia nos indique, talvez, seu próximo desaparecimento, como à beira do mar um rosto de areia[10].
O fim do mundo
Após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, Günther Anders mostrou como o risco concreto do desaparecimento do homem foi catapultado em direção à sua enésima potência. Segundo ele, não se tratou apenas de um salto qualitativo, mas de um “salto para o absoluto”. Adquiriu, como diz ele, um “status divino”– a onipotência já não proveniente do poder de criar, porém de destruir, atingindo um potencial ilimitado.[11] Poderia parecer um suicídio coletivo, caso se pudesse responsabilizar um único sujeito – o que é impossível. “Pois quem pressupuser aqui a “humanidade” como sujeito do agir cometerá com isso uma falsificação injustificável. Ora, seria um total desatino afirmar que os bilhões de seres humanos reais que vivem na Terra tomariam a decisão sobre seu destino enquanto bilhões de indivíduos “como um só homem”. A expressão frequentemente usada (às vezes também por mim) de que “o ser humano” ou “a humanidade” estaria em perigo de “cometer suicídio” ou de se decidir a fazê-lo (ou, inversamente, a não fazê-lo) – essa expressão não corresponde aos fatos. Quem é “o ser humano” ou “a humanidade” deste ponto de vista? Será verdade que todos nós provocamos a era da ruína possível e que, caso a catástrofe realmente ocorresse, todos nós teríamos a mesma medida de culpa?” E completa: “Não, as formas singulares “o ser humano” e “a humanidade” estão proibidas. Por meio dessas expressões, que aplicam a mesma medida a todo e qualquer ser humano, deixamos de considerar não apenas os culpados, mas também os bilhões de pessoas evidentemente inocentes, ou melhor, atribuímos a culpa também a estes últimos, sem exceção. Da mesma maneira que é absurdo caracterizar o capitalismo afirmando que, nele, “o ser humano se exploraria a si mesmo”, é igualmente absurdo afirmar com vistas à nossa situação apocalíptica que, nela, “o ser humano se ameaçaria a si mesmo” ou que, algum dia, haveria de se suicidar. Sem dúvida, essas afirmações soam impressionantes, e singulares dessa espécie são de fato populares, principalmente na “antropologia filosófica”; mas na maioria das vezes somente porque, por meio delas, é possível abafar as questões concernentes à culpa de cada um (acima de tudo o fato do dualismo de classes). Uma vez que deixarmos isso claro, teremos que abdicar da fórmula do suicídio.”[12]
Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro retomam essa linha, acrescentando: “Na situação presente da catástrofe climática que define o Antropoceno, a distinção entre culpados e vítimas, como vimos, é historicamente clara de um ponto de vista coletivo ou societário, mas algo difícil de tratar do ponto de vista da ação individual, uma vez que somos, hoje, muitos de nós (nós humanos e os vários não-humanos que escravizamos ou colonizamos) culpados e vítimas “ao mesmo tempo” em cada ato que praticamos, em cada botão que apertamos, cada bocado de comida ou de ração animal que engolimos – ainda que seja tão óbvio como essencial que não se confunda a rede MacDonald´s com o adolescente condicionado a consumir junk food, a Monsanto com o pequeno agricultor obrigado a pulverizar glifosato no seu milho geneticamente modificado, e menos ainda a indústria farmacêutica com o gado entupido de antibióticos e hormônios.”[13]
A nova constelação
No fundo deve-se admitir que vivemos uma guerra de mundos, ou como o diz Bruno Latour, Humanos de um lado (os ditos modernos) e Terranos por outro (o povo de Gaia).
Já podemos abordar uma constelação sobretudo de pensadoras que nas últimas décadas, através de suas pesquisas em biologia, etologia, primatologia, antropologia, psicologia, feminismo, em associação com sua formação filosófica, colocaram em xeque o que se convencionou chamar de “excepcionalismo humano”, “império dentro do império”, diria Espinosa. São autoras como Donna Haraway, Anna Tsing, Vinciane Despret, mas também Isabelle Stengers, Bruno Latour, Emanuele Coccia, e a seu modo Eduardo Viveiros de Castro. Se pudéssemos resumir o que essa constelação de autoras e autores têm em comum no tocante ao tema do antropocentrismo, eu diria, de maneira um pouco lapidar, que conseguiram, por assim dizer, devolver a espécie humana à rede de relações, interdependências, emaranhados terranos, bacterianos, fúngicos, vegetais, animais, materiais e semióticos de que não passam, em última instância, de uma dobra. Não deveria passar desapercebida a inflexão que um livro como Mil Platôs, de Deleuze e Guattari, produziu no campo do pensamento. Que a ilusão da autonomia, independência, autossuficiência, para não dizer supremacia do humano persista nas ciências ditas humanas, sobretudo na filosofia, à revelia das descobertas científicas e antropológicas das últimas décadas, apenas mostra a que ponto essa disciplina se manteve, por assim dizer, à margem do mundo.
Com a “intrusão de Gaia”, não é que de repente nos demos conta de que habitamos a Terra. Stengers insiste que “nomear” Gaia constituiu já uma “operação”. Como o dizem Danowski e Viveiros: “Gaia é o chamado a resistir ao Antropoceno, isto é, a aprender a viver com ele mas contra ele, isto é, contra nós mesmos. O inimigo, em suma, somos “nós” – nós os Humanos [em oposição aos Terranos]. Como Latour já tinha observado nas Gifford Lectures, o Antropoceno marca na verdade o fim do Humano, e o início da obrigação, e agora quem fala é Stengers, “de sonhar outros sonhos”.[14] Para a desconstrução da metafísica antropocêntrica colaboram várias outras autoras e autores, que concebem o mundo como “multiverso atravessado por múltiplas ontologias não-humanas, implicado em um devir que exige de nós que aprendamos a segui-lo”.[15]
Notas do autor e referências bibliográficas:
[1] Sigmund Freud, Conferências Introdutórias à Psicanálise (1916-1917) – Obras Completas Vol. 13, Tradução Sergio Tellaroli. São Paulo: Cia das Letras, XXX, p. 336.
[2] Cf M. Foucault, As palavras e as coisas. Lisboa: Martins Fontes, ou G. Deleuze, “Sobre a morte do homem e o super-homem”, in Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1988.
[3] Michel Foucault, entrevista com Alain Badiou, youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=entrevista+Foucault+Badiou
[4] Claude Lévi-Strauss, Antropologia estrutural.
[5] Giorgio Agamben, L´Ouvert, De l´homme et de l´animal, Paris, Payot&Rivages, 2002, p. 134.
[6] F. Nietzsche, “Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral”. In Obras incompletas, col Os pensadores. São Paulo: Ed. Abril, 1974, trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, p 54.
[7] M. Foucault, As palavras e as coisas. Lisboa: Martins Fontes, p 414.
[8] Idem, p. 419.
[9] Idem, p. 402-3.
[10] Idem, p 502.
[11] Günther Anders, A ameaça nuclear. Reflexões radicais sobre a era nuclear. São Paulo: n-1 edições, 2023 (no prelo).
[12] Idem, ibidem.
[13] Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, Há mundo por vir? Florianópolis, Desterro, Cultura e Barbárie, ISA, 2014, p. 113.
[14] Danowski e Viveiros, op. cit., p 146.
[15] Idem.

Peter Pál Pelbart
Filósofo, ensaísta e tradutor, é graduado em Filosofia pela Universidade Paris IV, doutor em Filosofia pela USP e livre-docente pela PUC-SP