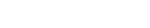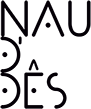Repare:
– a autora indica que nos apoiamos em nobres valores humanos, como a razão e a cultura, para justificar e empreender projetos que nos conduziram à degradação do planeta;
– ao considerar-se superior a tudo e a todos, a espécie humana apegou-se ao lugar de privilégios que todo bebê precisa ocupar durante algum tempo para se constituir como sujeito;
– baseando-se em Freud, a autora lembra que o amor dirigido apenas a si mesmo ao longo da vida, leva a um grave adoecimento psíquico, com perda de contato com a realidade, característica de quadro psicóticos;
– ao detectar no antropocentrismo o tipo de amor autodirigido que há nos bebês, a autora faz uma provocação à espécie humana, questionando sua capacidade de deixar o reinado infantil e abrir-se para amar a natureza.
Enquanto o Brasil se surpreende com ciclones e a Europa enfrenta verões dramáticos, o antropoceno apresenta-se não apenas como uma polêmica nova era geológica, mas como uma experiência aterrorizante de começo do fim. Morreremos torrados, com casas destruídas por furacões, cidades alagadas e campos devastados por pestes mutantes? Imagens apocalípticas ganham contornos de acontecimentos prováveis e próximos de todos nós.
As mudanças climáticas e suas catastróficas consequências – fenômenos extremos, destruição da biodiversidade, entre outros – se fazem notar no dia a dia e são cada vez mais associadas por estudiosos ao antropocentrismo, pensamento que considera a humanidade o centro do universo. Desse lugar especial que acreditamos ocupar, teríamos exercido um controle descontrolado do planeta, em nome do progresso, da prosperidade, do bem-estar e de outros tantos objetivos, feitos por e para os seres humanos.
Resultados, ideologias e dúvidas à parte, a certeza é que colocamos o planeta em sério risco de colapso. Estar no centro do universo não melhorou nossa visão e responsabilidade sobre ele. Ao contrário, estimulou um movimento predatório sem precedentes, desprezando a importância da natureza, dos animais, das plantas e de outros seres, sem os quais nossa sobrevivência se torna de sofrível a impossível.
Chama atenção o fato de empreendermos um projeto de autodestruição apoiado no que supostamente nos engrandece e diferencia de outras espécies: a razão, a civilidade, a cultura, a ética, as leis. Apegados a um sentimento de “superioridade” em relação à natureza, paradoxalmente rumamos a uma situação de “inferioridade” em relação até aos fungos, que sem serem animais ou vegetais, seguirão firmes e fortes à revelia de nossa inexistência.
Essa reviravolta trágica pode ser explorada à luz da psicanálise, especificamente a partir da expressão freudiana “Sua majestade, o bebê”, fase em que o necessário reinado infantil se estabelece, para, então, posteriormente, ser desfeito, em maior ou menor medida, com perdas e ganhos singulares a cada indivíduo.
O fato é que chegamos ao mundo prontos para morrer. A menos que nossos pais nos acolham em seus braços, corações e mentes, sucumbimos rapidamente, dado nosso grau de fragilidade e de dependência nos primeiros anos de vida, em oposição à imensa autonomia de filhotes de outras espécies. Se abandonados física ou psiquicamente quando bebês, adoecemos, na melhor das hipóteses; na pior, morremos.
“Todo bebê precisa de um reinado temporário que, depois, será desconstruído”
Cuidadores dedicam intermináveis dias e noites para alimentar, limpar, vestir, acalmar, animar e proteger seus bebês de toda sorte de ameaças reais e imaginárias. Os perigos vão de doenças a acidentes, de olho gordo a energias ruins, de crenças familiares a fantasias indizíveis, passando pela singela luz que atravessa a janela do quarto e é percebida como um raio laser cortante que irá perturbar o rebento. Põe-se ali uma cortina, improvisa-se uma barreira com almofadas, muda-se de casa, se preciso for. A nesga suave de sol, outrora bem-vinda, torna-se a representação do mal contra o filho pródigo.
É preciso ser irracional, contraditório, místico e alucinado para exercer a parentalidade. O “enlouquecimento materno”, descrito por Winnicott, é premissa básica para que o bebê seja visto e tratado como um ser único, especial, que tem necessidades e características próprias. Os pais “enlouquecem” no sentido de saírem da razão e do lugar comum, descartando e adaptando suas mais profundas convicções e temores, para dar conta das demandas de seu filho, que requer um jeito específico de ser cuidado. Não é um bebê, mas “o” bebê.
O amor dos cuidadores desenha o futuro (“ela vai ser médica”), enaltece defeitos (“esse berro é coisa de tenor!”) e decifra o invisível (“certeza de que ela está com frio, apesar do calor”). Sem um investimento afetivo avassalador, uma criança avança em tamanho e idade, mas não em autonomia e potência. A construção da identidade – que não seja extensão ou deformação da identidade de seus ancestrais – envolve uma miríade de afetos, desejos, projeções, expectativas, frustrações e medos investidos pelos pais, para o bem e para o mal.
Para abordar a centralidade absoluta, por vezes tirânica, que os filhos adquirem na família, Freud refere-se à “Sua majestade, o bebê”. O bebê está e deve estar no centro da família — até certa altura. Sem esse reinado temporário, viabilizar o auspicioso projeto de crescer e amadurecer torna-se errático, pois a infância é a base do edifício que seremos no futuro.
O olhar afetuoso, fascinado e hipnotizado dos cuidadores é o espelho pelo qual o bebê se descobre, ganhando condições de amar a si mesmo e aos outros. O bebê que se torna invisível (pelo abandono, por exemplo) ou malvisto, recebendo um olhar frio e distante dos genitores (adoecidos, de alguma forma), enfrentará sérios obstáculos para crescer psiquicamente forte.
O reinado infantil faz parte do narcisismo e diz respeito não apenas ao filho, mas também aos pais. Descreve Freud:
“Quando vemos a atitude terna de muitos pais para com seus filhos, temos de reconhecê-la como revivescência e reprodução do seu próprio narcisismo há muito abandonado… Os pais são levados a atribuir à criança todas as perfeições…também se verifica a tendência a suspender, face à criança, todas as conquistas culturais que o seu próprio narcisismo foi obrigado a reconhecer, e a nela renovar as exigências de privilégios há muito renunciados. As coisas devem ser melhores para a criança do que foram para seus pais… tanto as leis da natureza como as da sociedade serão revogadas para ela, que novamente será centro e âmago da Criação.” 1
Ocorre que esse reinado deverá ser desconstruído e o reizinho terá de abdicar de seu poder, sem o que não avançará para novas fases da vida. Os privilégios infantis terão de ser proibidos, revistos e reprimidos em nome da imersão na cultura, nas normas e regras do mundo civilizado. Deixamos de ser o centro, para sermos mais um a conviver com bilhões de iguais, submetidos aos pactos da sociedade, com alguma margem de liberdade negociável.
“Amar para além do próprio umbigo pode salvar o planeta de nós mesmos”
A passagem de reizinho da casa a sujeito do mundo é inevitável e incompleta. Inevitável porque manter-se bebê não é uma opção sequer oferecida pelos nossos corpos. Psiquicamente podemos reviver essa fase, mas nosso desenvolvimento físico desmente qualquer sinal de que é possível parar o tempo. E incompleta porque guardamos resquícios de pensamentos, sentimentos e atos infantilizados que nos conduzem, súbita e intensamente, à posição dos primeiros anos de vida. O adulto que esperneia no trânsito, como se fosse o único com pressa, reproduz o bebê que tinha no choro a solução possível para anunciar suas urgências.
O antropocentrismo, com a visão iludida (e conveniente) de que o homem, e apenas ele, possui as chaves da criação e do controle do mundo, insere a nossa espécie na eterna condição do majestoso bebê, cercado de privilégios e dotes especiais. Pedindo, ordenando, fazendo e desfazendo, ele comanda os desígnios do planeta/casa em função de suas necessidades e anseios, que não são poucos nem banais. Nada mais importa. O mundo existe para ele e ele, aliás, é o mundo. Estamos falando do bebê ou do adulto autorreferente, concebido pelo antropocentrismo? As fronteiras entre um e outro são nebulosas.
De acordo com a teoria freudiana, inicialmente o bebê vive o autoerotismo, sem se diferenciar do mundo e muito menos da mãe. Rapidamente ele percebe que seu corpo existe à parte do resto: o colo se ausenta, o frio incomoda, a fome irrita. O bebê se dá conta de que possui bordas entre ele e o mundo, e suas necessidades precisam ser satisfeitas por alguém.
A centralidade do bebê é fundamental, pois atende ao seu senso de autoconservação. Ele precisa ser atendido sem demora ou desleixo, para se desenvolver bem. No narcisismo primário, termo de Freud, toda a libido do ser, sua energia e seu amor, é dirigida a si mesmo e à busca de satisfações (de fome, sono, frio etc.). Nessa fase, não existe amor ao objeto, que são outras pessoas e coisas. O amor objetal surge logo mais adiante, e é o que define o narcisismo secundário, quando o bebê passa a desejar e amar outras pessoas e coisas.
Note, portanto, que a visão antropocêntrica se equipara à fase em que predominavam os instintos mais básicos e primitivos de nossa existência, quando nosso amor estava concentrado em nós mesmos, sem que pudéssemos amar algo ou alguém para além de nosso umbigo. É um circuito de energia fechado, em torno de si mesmo. A diferença é que, enquanto o bebê precisa do amor egoísta para sobreviver, a humanidade ilude-se com o amor egoísta na rota oposta, indo no sentido da autodestruição.
Freud aponta as consequências do amor que persiste fechado e megalomaníaco, sem evoluir em direção a outros objetos: “é preciso começar a amar, para não adoecer, e é inevitável adoecer, quando, devido à frustração, não se pode amar.” 2
Aquele que ama apenas a si mesmo, infla de tal modo o mundo interno, que o mundo externo desaparece e, com ele, a perspectiva de contato com a realidade. Assim são os quadros psicóticos, com delírios e alucinações que tomam e expressam o conteúdo do mundo interno – lembranças, fantasias, temores, desejos — como se ele fosse real. Por isso alguém em surto psicótico, vê e ouve coisas que ninguém mais vê e ouve, pois o mundo interno (que é parcial, caótico, insondável) adquire status de mundo, impossibilitando a compreensão dos demais. Esse é o estado de loucura.
Coletivamente, como espécie humana, teríamos enlouquecido a esse ponto, perdendo a visão e a compreensão da força da natureza (nosso “mundo externo”)? Acreditamos em mensagens “inventadas” (progresso, sucesso, razão) pelo nosso amor fechado e concentrado em nós mesmos, que nos impele a agir como os eleitos para dominar o mundo? E assim, executando projetos que priorizam as satisfações humanas em detrimento de todo o restante, rumamos para a beira do precipício?
Essa é uma provocação que não pode ser pensada sem a disposição para romper com um circuito de amor blindado e impermeável que construímos enquanto espécie. É hora de começar a amar o que está fora de nós, mas em profunda em relação conosco, tudo o que não é humano, mas vivo. Já passou da hora do reizinho que fomos um dia abdicar de seu lugar de privilégios e descobrir que há muito mais vida lá fora do que o nosso trono permite enxergar.
Referências bibliográficas:
- FREUD, Sigmund – “Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e outros Textos (1914-1916), Obras Completas” – Companhia das Letras, 2010 – p.36
- Idem, p. 29