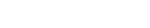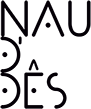A n-1 edições é parceira da revista Parepense e gentilmente autorizou a publicação de trechos do livro Um brinde aos mortos — Histórias daqueles que ficam, de Vinciane Despret, que pode ser adquirido em seu site
Repare:
- na sua visão, superar a morte de alguém, na tentativa de esquecer ou diminuir sua importância (como pregam inúmeras teorias sobre o luto), nos priva da riqueza que a relação com ele pode oferecer;
- para a autora, a morte não deveria determinar o fim da relação entre vivos e mortos, que pode ser prolongada por meio de histórias, memórias, homenagens ao morto, entre outras iniciativas afetivas;
- Despret refuta a ideia de que a morte encerra uma vida; sob um outro modo de existência, outras possibilidades se abrem;
- a morte acontece de fato, segundo a autora, quando o morto deixa de ser lembrado, falado e pensado, perdendo a participação e o lugar que poderia ter no mundo independentemente de sua presença física.
Excerto – Página 14 a 18 – Um brinde aos mortos — Histórias daqueles que ficam, de Vinciane Despret, n-1 edições
Se não cuidarmos dos mortos, eles morrem de fato. Mas, se formos responsáveis pela maneira através da qual vão perseverar na existência, isso não significa de modo algum que a existência deles seja totalmente determinada por nós. A nós cabe a tarefa de oferecer-lhes “mais” existência. Esse “mais” deve ser entendido, na verdade, no sentido de um suplemento biográfico, de um prolongamento de presença, e, principalmente, no sentido de outra existência. “Mais existência”, em outros termos, é uma promoção da existência do morto, ela não será a do vivo que ele foi, terá outras qualidades, nem a do morto mudo e inativo, totalmente ausente, que ele poderá se tornar por falta de cuidados ou de atenção. Ele se tornará de outro modo, isto é, em outro plano. É o que propunha claramente Patrick Chesnais ao dizer que seu filho viveria, graças às suas cartas, “alguns anos a mais, de outro modo”, assim como sugere a correspondente de Anny Duperey quando evoca o fato de que os mortos “terminam, de outra maneira, aquilo para o que foram feitos”. Levar um ser a essa “mais existência” que lhe permita continuar a influenciar a vida dos vivos pede, portanto, todo um trabalho ou, mais exatamente, disponibilidade, que não tem muito a ver com o famoso “trabalho do luto”. Os mortos pedem ajuda para nos acompanhar; há atos a serem realizados, respostas a serem dadas a esse pedido. Responder não apenas conclui a existência do morto, mas o autoriza a modificar a vida daqueles que respondem.
Poderíamos dizer, a partir daí, de acordo com o filósofo Étienne Souriau, que os mortos pedem ajuda para conseguir esse “mais” de existência, transformando, assim, a existência daqueles que foram chamados para ajudar. Com frequência, muito concretamente, é oferecendo-lhes a oportunidade de executar suas tarefas que se consegue essa realização, da qual os mortos são ao mesmo tempo autores e beneficiários.
Essas tarefas assumidas pelos mortos são, certamente, muito diferentes. Se ficarmos no registro daquilo que é habitualmente evocado, elas vão do simples fato de dar ao vivo o sentimento de sua presença até manifestações mais ativas, como quando o morto envia um sinal, dá um conselho em um sonho, faz sentir que há coisas a fazer ou mesmo a não fazer, dá uma resposta às perguntas que se fazem, encoraja, consola ou apoia, ou ainda convida aquele que ficou a se reconectar com a sua vida.
“Ajudamos os mortos a ser ou a se tornar aquilo que eles são, não os inventamos”
Para dar conta desse trabalho pelo qual é atribuída mais existência a um ser, e que o conduz a “continuar de outro modo”, isto é, a ser de outra maneira, o filósofo Bruno Latour toma de Souriau a ideia de que toda existência, qualquer que seja ela, deve ser instaurada.[1] Esse termo considera a ideia de que alguma coisa deve ser construída, criada, fabricada. Mas, contrariamente aos termos “construir”, “criar” ou “fabricar”, que nos são familiares, instaurar obriga a não se precipitar rápido demais sobre a ideia de que aquilo que se fabrica seria totalmente determinado por aquele que assume fazer ou criar um ser ou uma coisa. O termo instauração indica, ou melhor, insiste no fato de que trazer um ser à existência envolve a responsabilidade de quem instaura acolher um pedido. Mas ele destaca, principalmente, que o gesto de instaurar um ser, ao contrário do que poderia implicar o de criá-lo, não significa “tirá-lo do nada”.[2] Ajudamos os mortos a ser ou a se tornar aquilo que eles são, não os inventamos. Sejam eles almas, obras de arte, personagens de ficção, objetos da física ou mortos, pois todos são o produto de uma instauração, cada um desses seres será conduzido para uma nova maneira de ser por aqueles que assumem essa responsabilidade, através de uma série de provas que vão transformá-lo.
Instaurar é, portanto, participar de uma transformação que leva a certa existência, isto é, como já dissemos, a mais existência, uma existência que poderá manifestar, no caso de uma conclusão particularmente bem-sucedida, aquilo que Souriau chama de seu “fragmento de realidade”. Podemos falar de “realidade” a propósito da existência dos mortos – contanto que possamos nos entender sobre o justo regime de realidade que lhes pode ser concedido. Aliás, é em relação a esse termo que muitas vezes as coisas se complicam. Como podemos dizer que certos mortos “realmente” existem, que têm uma existência plena e inteira, que não são, por exemplo, um produto da imaginação dos vivos – embora a imaginação destes possa estar mobilizada? É claro que a realidade deles não é a mesma das montanhas, dos carneiros ou dos buracos negros. Também não é a mesma dos personagens de ficção que têm, eles mesmos, seu próprio “fragmento de realidade”, o que atestam os romancistas que se afirmam guiados por seus personagens – ou como mostra o fato de que o encontro com um deles possa intensificar nossa própria vida. Sua potência de agir, ou melhor, de fazer agir, sua capacidade de se impor a partir “do exterior” traduz a efetividade de sua presença. Para poder falar da realidade dos mortos, precisamos, portanto, situá-los de acordo com aquilo que Latour, sempre após Souriau, chama de seus próprios “modos de existência”.
Latour retoma de Souriau essa pergunta aparentemente simples: de quantas maneiras podemos dizer que o ser existe? Devemos dizer que um rochedo “existe” da mesma forma que uma alma, uma obra, um fato científico ou um morto? Todos existem, responde Latour, mas nenhum se define segundo a mesma “maneira de ser”. Determinar cada uma das formas pelas quais podemos dizer que cada um desses seres existe é criar para cada um deles um estatuto de seu modo próprio de existência, da maneira pela qual podemos dizer que ele é “real”. Questionar o modo de existência de um ser é situá-lo no registro de verdade que lhe convém – ninguém critica Cervantes por ter mentido ao escrever as aventuras de Dom Quixote –, mas é também inscrevê-lo na relação criadora que presidiu sua instauração. É o problema que Souriau colocou no campo da estética: quem é o autor de uma obra? Ele diz que o artista nunca é o único criador, é “o instaurador de uma obra que chega até ele, mas que sem ele nunca efetuaria sua existência”.[3] O modo de existência da “obra a ser feita” não permite decidir entre aqueles, artistas ou obras, que poderiam reivindicar a verdadeira origem: o escultor ou a escultura, o poeta ou o poema, o pintor ou o quadro? A obra em busca de existência chama o pintor, o poeta ou o escultor, e este vai se dedicar a levá-la à sua plena realização para concluí-la como obra. Em outros termos, o quadro, a escultura ou o poema a serem feitos exigem uma existência; o artista, e é isso que define seu papel e suas obrigações, tem acesso a esse pedido, e vai explorar a partir dele e responder ou, mais precisamente, se tornar capaz de responder ao que ele exige. Isso é “instaurar” uma obra, conduzi-la de “obra a ser feita” à sua existência de obra concluída.
“Aqueles que aprendem a manter relações com seus mortos assumem, portanto, um trabalho que nada tem a ver com o trabalho do luto”
Ao pensar em definir, para descrever a maneira pela qual os mortos interferem na vida dos vivos, o modo de existência que permite dar conta do que eles fazem e do que levam a fazer, evitamos a armadilha em que nossa tradição geralmente captura e paralisa o problema: a de distribuir os modos de ser em duas categorias, de um lado a da existência física e, do outro, a da existência psíquica – ou isso diz respeito ao mundo material, ou apenas se origina nas produções subjetivas. Essa escolha ameaçadora deixa aos mortos apenas dois destinos possíveis, ambos miseráveis: o de não existente, ou o de fantasma, de crença, de alucinação. Por outro lado, afirmar que os mortos têm “modos de ser” que fazem deles seres bem reais no registro que é o deles, que manifestam modos de presença que importam e dos quais podemos sentir os efeitos, é se interessar pelo fato de que houve, a cada vez, um “ser a ser feito” e um ser vivo que acolheu esse pedido. É isso que diz a correspondente de Anny Duperey: os mortos têm coisas a concluir, mas eles mesmos devem ser o objeto de uma conclusão. Este é o “vaivém dinâmico, quente e fascinante”. Quem vai fazer o que permanece muito indeterminado nessa história, como em todas as histórias que exigem realização.
É claro que isso leva um pouco de tempo, às vezes até mesmo alguns anos, mas exige, muito concretamente, que os mortos estejam situados. Que tenhamos destinado a eles um lugar a partir do qual possam “terminar aquilo para o que foram feitos”, que tenhamos dado um lugar a eles. Exige ainda outras coisas: cuidados, atenção, atos, um meio, senão propício ou acolhedor, pelo menos não muito hostil. A maneira de ser dos mortos requer boas maneiras, maneiras pertinentes, de se dirigir a eles e de compor com eles. São essas maneiras, maneiras de ser dos mortos e maneiras de se dirigir a eles aprendidas pelos que ficam, que este livro se propõe estudar.
O que torna um morto capaz de subsistir? A que um morto está ligado? Quais as condições propícias que tornam os mortos capazes? Que tipos de provas os fortificam e quais os colocam em perigo? De que eles precisam? O que pedem? De que eles tornam os outros seres capazes? O que faz para eles, e para aqueles que assumem sua responsabilidade, um bom meio?
Entendemos que essas perguntas estão próximas daquelas que a ecologia faz a seus próprios objetos, por essa razão posso dizer que minha pesquisa tem a ver com a ecologia.[4] Na medida em que questiona as condições de existência daqueles que estuda, a ecologia se diferencia das perguntas tipicamente privilegiadas pelos cientistas. Para esses últimos, explica Isabelle Stengers, a questão da existência, quando se coloca, é mais frequentemente no sentido de “podemos demonstrar que isso (força da gravidade, átomos, moléculas, nêutrons, buracos negros…) existe de fato?”[5] A questão ecológica não é essa, está ligada às necessidades que devem ser honradas na criação contínua de relacionamentos.
A partir de então, colocar a questão do meio é crucial para esta investigação. Porque os contrastes entre as maneiras de ser, as maneiras de acolher as experiências e as maneiras de compor com elas vão se revelar fortemente determinados pelo fato de beneficiarem-se, ou não, de um meio propício. Um meio no qual o fato de escrever cartas para um morto pode suscitar a suspeita, o desprezo ou a ironia – ou, numa versão “tolerante”, tornar-se o objeto de interpretações consensuais que escamoteiam o próprio sentido dessas cartas –, pode se mostrar muito empobrecedor, até mesmo nocivo. Por exemplo, a teoria do luto pode constituir um meio mortífero, na medida em que se fundamenta numa exigência de desfazer as ligações, e na qual ela apenas oferece às relações o espaço confinado dos psiquismos.
A questão do meio, porém, é igualmente uma questão prática que sempre se coloca, de uma forma ou de outra, para aqueles que ficam. Geralmente começa com um problema ao qual uma grande parte daqueles que o morto deixa vai se esforçar para responder: onde está ele? É preciso situar o morto, isto é, lhe “dar” um lugar. O “aqui” ficou vazio, é preciso construir o “ali”. Aqueles que aprendem a manter relações com seus mortos assumem, portanto, um trabalho que nada tem a ver com o trabalho do luto. É preciso encontrar um lugar, de múltiplas maneiras e na grande diversidade de significações que pode ter a palavra “lugar”. Antes de serem instaurados, e para poderem sê-lo, os mortos devem ser instalados.
A primeira pergunta que fazem os desaparecidos não se inscreve então no tempo, mas no espaço. É verdade que a questão do tempo é quase sempre evocada: “nunca mais o veremos”, “ele repousa em paz na eternidade”, “nunca mais estará ao nosso lado”, e que a conjugação no passado parece ter que se impor. Essa questão, porém, se coloca muito menos frequentemente e com muito menos hesitação do que aquela de saber onde estão os mortos.[6] Ao longo da nossa história, não deixamos – e a invenção do Purgatório, veremos, é apenas um episódio – de procurar um lugar onde instalá-los, de onde possamos continuar a conversa. Onde quer que os mortos estejam ativos, há a designação de um lugar. Os anúncios fúnebres são exemplares a esse respeito, citarei apenas dois, colhidos nos obituários: “Se olhar para trás lhe traz tristeza e olhar para a frente o inquieta, então olhe ao seu lado: estarei sempre lá”, ou ainda, “Não é porque estou indo embora que não me importo”.
Notas da autora e referências bibliográficas:
[1] Etienne Souriau, Diferentes modos de existência, trad. Walter Romero Menon Junior. São Paulo: n-1 edições, 2021. Refiro-me, principalmente, para essa análise ao prefácio que lhe consagraram Isabelle Stengers e Bruno Latour, “Le sphinx de l’œuvre, assim como o artigo de Bruno Latour, “Sur un livre d’Étienne Souriau: les différents modes d’existence”, 2009, disponível em: http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/98-SOURIAU-FR.pdf.
[2] Lise Florenne, Entrée “Instauration” in: Etienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique. Paris: PUF, Quadrige, 1990, p. 892.
[3] Latour, Investigação sobre os modos de existência, op. cit.
[4] Como também poderia estar ligada às práticas da etologia, se entendermos no sentido que Deleuze dava a esse termo: a etologia é o estudo prático das maneiras de ser, isto é, o estudo prático daquilo que podem as pessoas ou os animais. Não daquilo que eles são, da sua essência, mas daquilo que eles são capazes, daquilo que eles fazem, das suas potências, das provas que podem suportar (Curso sobre Espinoza, de 09/12/1980, disponível em: http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=137).
[5] “Penser à partir du ravage écologique” in: De l’univers clos au monde infini, sob a direção de Emilie Hache. Bellevaux: Dehors, 2014, pp. 147-190, p. 154.
[6] Talvez a questão da temporalidade não devesse ser assim tão rapidamente eliminada quanto sugiro. Mas ela não surge assim como uma questão a ser resolvida. Trata-se, talvez, de fixá-la junto a outras possibilidades, com isso ela parece ficar mais estabilizada. Contudo, ela é complexa, pois é relativa, o que faz da temporalidade dos mortos uma múltipla temporalidade: os mortos jovens, por exemplo, continuam a envelhecer para alguns próximos, eles adquirem, em cada um dos seus aniversários, um ano a mais, o que não acontece com os mortos que atingiram a velhice. Mas essa primeira afirmação pode ela mesma ser contrariada, quando “aqueles que ficam” são, no momento da morte, mais jovens do que o morto: eles podem, por exemplo, dizer a certo momento, “agora passei da idade que ele atingiu”, sinal de que aquele morto permanece, de certa forma, fixado na idade que tinha quando morreu.

Vinciane Despret
Filósofa, psicóloga e professora do departamento de filosofia da Universidade de Liége, na Bélgica