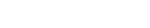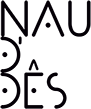Reportagem de André Julião, para Agência FAPESP (05 de setembro de 2023). A Agência FAPESP autoriza a republicação por meio do link CC BY-ND 4.0
Repare:
- a ancestralidade, seja europeia, africana, asiática ou indígena, é um conhecido fator para prever o tipo de câncer de mama mais provável de ocorrer em uma certa população;
- mulheres de ascendência africana têm mais chances de desenvolver tumores do tipo triplo-negativo, que são de difícil tratamento;
- a conclusão é de um estudo publicado na revista Clinical Breast Cancer por pesquisadores do Hospital de Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos);
- com esses resultados é possível indicar maior regularidade de exames de rotina no Norte e Nordeste, onde a parcela de mulheres com ascendência africana é predominante.
Primeiro levantamento do tipo com amostras da população brasileira indica que mulheres de ascendência africana têm mais chances de desenvolver tumores do tipo triplo-negativo, que são de difícil tratamento
A ancestralidade, seja europeia, africana, asiática ou indígena, é um conhecido fator para prever o tipo de câncer de mama mais provável de ocorrer em uma certa população. No entanto, em países miscigenados como o Brasil, apenas a cor da pele não é suficiente para determinar esse fator de risco.
Essa foi a conclusão de um estudo publicado na revista Clinical Breast Cancer por pesquisadores do Hospital de Amor, antigamente conhecido como Hospital do Câncer de Barretos.
O grupo realizou a primeira avaliação de ancestralidade de pacientes com câncer de mama, nos distintos subtipos moleculares, com base em marcadores genéticos de ancestralidade especialmente selecionados para a população geral brasileira. Esse tipo de análise é importante para definir se a frequência desses subtipos de tumores se associa com a ancestralidade genética das pacientes.
“Os resultados apontam para a necessidade de realizar exames anuais em populações de ascendência africana, predominante no Norte e Nordeste do país. Além dos fatores socioeconômicos, que podem influenciar o prognóstico da doença nessa população, observamos uma maior proporção de ancestralidade africana em mulheres com o subtipo molecular triplo-negativo, que é sabidamente mais agressivo, multiplica-se mais rápido e tem menos opções de tratamento”, esclarece René Aloisio da Costa Vieira, pesquisador do Hospital de Amor e um dos coordenadores do estudo, financiado pela FAPESP.
“A cor da pele não é determinante para o tipo de tumor, mas, sim, a ancestralidade”
Ele divide a primeira autoria do trabalho com Débora Sant’Anna, que teve bolsa de treinamento técnico da FAPESP.
No estudo, realizado em mais de mil pacientes com câncer de mama de diferentes regiões do país, observou-se que a ancestralidade avaliada geneticamente foi fator associado com a classificação molecular do câncer. “Isso mostra como a cor da pele não é determinante para o tipo de tumor, mas, sim, a ancestralidade”, comenta Rui Manuel Reis, coordenador do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular (CPOM) da mesma instituição.
Prevenção e tratamento
Em 2016, os pesquisadores haviam analisado pacientes com câncer de mama hereditário e não encontraram relação entre ancestralidade e as mutações relacionadas a esse subtipo de tumor.
Posteriormente, o grupo correlacionou a ancestralidade dos brasileiros com outros tumores. Em 2019, os cientistas demonstraram associação entre uma mutação de sensibilidade a droga presente em tumores de pulmão e pessoas com ascendência asiática.
No ano seguinte, outro trabalho mostrou que pessoas de ascendência africana têm diagnosticado câncer colorretal em idade mais precoce do que pacientes de ancestralidades europeia e asiática.
No trabalho atual, foram analisadas 1.127 amostras de tumores de pacientes nascidas nas cinco regiões brasileiras que passaram pelo Hospital de Amor, com uma predominância maior do Sudeste (72%). Foram 7,3% das pacientes da região Norte, 1,8% do Nordeste e 0,9% do Sul.
Seguindo o padrão de autodeclaração de cor ou raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria se declarava branca (77,9%), seguidas de pardas (17,4%) e negras (4,1%). Amarelas (asiáticas) e indígenas somaram 0,5%.
Quanto ao tipo de tumor, a maioria (64,8%) era luminal Her-2 negativo e 19,1% luminal Her-2 positivo, que, além de quimioterapia, contam com tratamento hormonal como opção terapêutica. Já 16,2% tinham tumores triplo-negativos, que se multiplicam mais rápido, são associados a um pior prognóstico e não contam com terapia hormonal.
“De maneira geral, a quimioterapia se associa a cerca de 12% de aumento da sobrevida, independente do subtipo molecular. No caso dos luminais, existe o tratamento hormonal, que eleva a sobrevida em cerca de 30%, mas não tem efetividade nos triplos-negativos”, explica Vieira.
Ainda que cada mulher apresentasse uma ancestralidade principal, os pesquisadores observaram uma considerável mistura na composição genética, com a maioria sendo europeia, seguida de africana, ameríndia e asiática.
“Uma alta proporção de ancestralidade africana foi observada no Nordeste (52,6%) e Norte (51,3%)”
Foi encontrada uma associação significativa entre o subtipo do tumor e a região geográfica onde vivia a paciente, com 20% dos triplos-negativos sendo mais frequentes na região Nordeste, enquanto 15,7% dos HER+, outro subtipo de prognóstico pior do que os luminais, sendo mais frequentes na região Norte.
Uma alta proporção de ancestralidade africana foi observada no Nordeste (52,6%) e Norte (51,3%), enquanto no Sul (60%) e no Sudeste (38%) prevaleceu uma proporção maior de ancestralidade europeia.
Em todas as regiões, mulheres com menos de 40 anos tinham uma maior frequência de tumores triplo-negativos (22,3%) e mulheres com mais de 74 anos apresentavam mais luminal HER-2 negativo (6,2%). Ao mesmo tempo, a fase inicial do diagnóstico foi mais associada com esse subtipo (21,3%), enquanto pacientes com metástase tinham mais o subtipo HER-2 positivo (13,3%) e triplo-negativo (11,2%).
A ancestralidade europeia foi mais frequentemente associada com o tumor luminal HER-2 negativo (36,3%), enquanto a africana foi relacionada tanto com a versão positiva desse subtipo (HER-2+) (43,7%) quanto com o triplo-negativo (42,2%).
Com os resultados, é possível indicar uma maior regularidade de exames de rotina, como mamografia, no Norte e Nordeste do Brasil. “Os dois anos indicados atualmente no Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser muito tempo para quem estiver com um tumor triplo-negativo, que duplica de tamanho com muita rapidez. O ideal seriam exames anuais”, encerra Vieira.
O artigo Genetic Ancestry of 1127 Brazilian Breast Cancer Patients and Its Correlation With Molecular Subtype and Geographic Region pode ser lido em: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1526820923000861.